Lendo e aprendendo: sobre o livro "Guerras da conquista"
Tantas veces me morí
Sin embargo estoy aquí resucitando
Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal
Porque me mató tan mal
Y seguí cantando
(“Como la cigarra”, cantada por Mercedes Sosa)
Ninguém melhor do que “La negra”, para inspirar este texto que é uma reflexão e uma recomendação. Porque La voz da América tinha também o rosto da América – a nativa, ancestral e violentada América. Em todo o continente, os povos indígenas são sobreviventes de uma guerra física e simbólica que nunca terminou. O insuficiente território que lhes deixamos é sempre questionado por novas frentes de expansão e especulação. Vez ou outra são abertamente atacados, como agora, no Brasil. Mas sempre apagados, diminuídos em sua história e cultura. Como mudar isso neste país construído sob escombros e sangue de outras sociedades?
Revisitar o passado, trazer novos olhares sobre o que ocorreu, é um dos esforços para essa transformação urgente. Resgatar memórias, contar o que não foi contado pela visão colonialista e racista que persiste, inclusive na forma do Estado. É o que muitos estudiosos têm feito. Este ano me veio parar nas mãos um livro que todos os brasileiros deveriam ler: “Guerras da Conquista: da invasão dos portugueses até os dias de hoje”, dos historiadores Felipe Milanez e Fabrício Lyrio Santos. Lançada em 2021, a edição é parte do projeto Guerras do Brasil.doc, que tem outros livros (e a série muito boa que está na Netflix, com direção de Luiz Bolognesi).
Um dos méritos da obra é ter uma linguagem atraente e dinâmica. Faz um apanhado de cinco séculos, passa pela história de várias etnias e territórios, mas nem por isso é cansativo (ao meu ver). A leitura prende a atenção, é didática e serve como ponto de partida para questionamentos e futuras pesquisas do leitor. São muitas descobertas recentes nas áreas de arqueologia e documentação histórica que estão revolucionando a forma de ver o passado dos nossos povos indígenas.
Importa dizer que “Guerras da Conquista” tem posicionamento: desmonta mitos e preconceitos, traz o indígena para o lugar de agente, modificador de seu destino diante de novas e duras realidades.
Uma coisa que me impressiona na História do Brasil é como governantes e intelectuais escolheram termos especiais para esconder tanta violência contra os povos nativos. Parece que, até para os padrões da época colonial, era preciso se justificar. “Pacificação”, “guerras justas”... deram nomes bonitos a coisas horríveis. E muitos continuaram fazendo isso, somente dando tons diferentes à visão eurocêntrica e pretensamente "superior" de antigamente.
Ao chegarem os portugas, o fato é que havia aqui uma população diversa, com centenas de línguas e modos de vida, grandes redes de comércio continental, regiões mais populosas que muitas cidades europeias de então. Sociedades mais hierarquizadas, outras mais igualitárias. Estimam-se de 5 a 10 milhões de habitantes nativos aqui, mas hoje há indícios de que esse número deve ter sido muito maior. Portanto, o Brasil já tinha moradores. Foi conquistado.
Para a conquista ocorrer, houve muita guerra – daí o nome do livro, que demonstra que os povos indígenas brasileiros não eram genuinamente pacíficos, tampouco ingênuos. Eles reagiram bem rápido assim que as intenções do governo português mudaram: aqueles homens brancos e fedidos não vinham mais conhecer a região e comercializar pau-brasil com os povos, mas sim ocupar suas terras e escravizá-los. A partir desse ponto, de 1530 pra frente, a costa brasileira ficou banhada em sangue.
No litoral estavam os tupinambás, povo tupi com forte cultura de guerra e excelentes no combate marítimo. Eles lutaram muito contra os portugueses, buscaram aliados (como os franceses) e formaram a conhecida Confederação dos Tamoios. Somente ela demorou quase 20 anos para ser derrotada. Seu maior líder foi o morubixaba (cacique) Cunhambebe, grande guerreiro e articulador, que negociou com os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta – ambos representando a Coroa. Anchieta, devido aos seus relatos, aparece bastante no livro, muitas vezes louvando a violência contra os povos ingratos que não aceitavam se submeter aos “civilizados”.
Naqueles primeiros tempos, outro líder indígena foi fundamental para os destinos da colonização. Ao meu ver, merece muitos agradecimentos e estátuas do povo de São Paulo. Foi Tibiriçá, cacique tupiniquim aliado dos portugueses – ele almejava derrotar os tupinambás, inimigos históricos de seu povo. Nas guerras contra os Tamoios, Tibiriçá defendeu inúmeras vezes as vilas de São Vicente e de São Paulo de Piratininga (sem contar que os tupiniquins ajudaram a construí-las também).
Por vários motivos, quando vários à sua volta de rebelavam, ele se manteve fiel a essa aliança. E se, naquele ponto da História, Tibiriçá tivesse mudado de ideia com seu enorme exército? Existiria a grande metrópole de hoje? Difícil saber, mas é provável que Padre Anchieta e outros figurões portugueses tivessem o mesmo fim que o saboroso bispo Sardinha.
Por outro lado, o governador Mem de Sá poderia ganhar o troféu de genocida. Ele e seu sobrinho, Estácio de Sá, foram militares enviados por Portugal com a missão de “pacificar” a guerra generalizada na costa (pacificar = “guerra total”). O cara destruiu tribos inteiras do litoral da Bahia ao sul paulista, usando os sobreviventes como bucha de canhão nas batalhas seguintes. Para alguns historiadores, Mem de Sá foi para nossos indígenas o que Francisco Pizarro foi para os incas. Seu sobrinho, Estácio de Sá, participou dos massacres até que foi morto em 1567 por uma flecha tupinambá. Figuras como eles não deveriam dar nome a nada neste País.
Como livro mostra, foram imensas as histórias de luta e rebeliões a cada avanço colonizador. No Nordeste, a resistência dos potiguares e de outras etnias só foi vencida após mais de um século de lutas (em meados de 1600). Já no século XVIII, os manaos lideraram uma frente de povos para impedir a colonização na região do Rio Negro. Quase cem anos depois, seu chefe Ajuricaba seria lembrado como herói pelos rebelados na Cabanagem, no Pará – uma revolta essencialmente indígena e anticolonial.
Preciso dizer que as epidemias, foram, de fato, fundamentais para a conquista portuguesa. Os invasores, aliás, contavam com elas. Logo após grandes batalhas, os indígenas eram atingidos por varíola, sarampo, rubéola. Houve grandes epidemias em todo o litoral tupi entre 1550 e 70. No Maranhão, em 1621, nas calhas dos rios amazônicos, em 1660 e 1720. Todas justamente nos períodos de guerras. Com tribos inteiras mortas ou doentes, os que sobravam enfrentavam a fome, a desorganização social e sem tardar, uma nova ofensiva da Coroa ou dos governantes/colonos locais. Governo ao lado do vírus? Nada novo pra nós.
Pior é que, depois de rendidos, os indígenas eram confinados em “aldeamentos”, as chamadas “reduções”, o que também favorecia as epidemias. Sob os olhos de hoje, tais "aldeias" seriam mais parecidas com campos de concentração mesmo: havia trabalho forçado, maus tratos, assassinato, conversão forçada, proibição da cultura nativa. E apesar de a escravidão ser proibida pela Igreja, um acordo tácito entre governantes e jesuítas permitia que os índios fossem usados para abrir estradas, construir vilas e guerrear contra outros povos. Os guaranis, no Sul, foram muito escravizados. E as grandes frentes de colonização tiveram em sua maioria grandes exércitos de cativos.
O resultado disso tudo foi horroroso. No Brasil, a violência foi tão absurda (também durante a monarquia e a república) que, em 1957, a população indígena chegou a 57 mil, o número mais baixo já registrado, com centenas de povos à beira da extinção. Somente após a constituição de 1988 a população indígena voltou a crescer constantemente. Em todo o continente, nos 150 primeiros anos de colonização europeia, calcula-se 30 milhões de pessoas nativas morreram: o maior holocausto humano de que se tem notícia, sem contar os séculos seguintes.
Mesmo derrotados nas grandes guerras de conquista, a luta anticolonial e por direitos continuou de outras formas. Durante um tempo, os povos do sertão* conseguiram manter os colonizadores distantes: eram os bravos maxacali, krenak, pataxó e xacriabá (entre outras etnias), em Minas, Espírito Santo e Bahia. Ao longo dos séculos, os povos nativos organizaram guerrilhas, fugas coletivas das vilas, operações de resgate, migrações, se uniram a quilombos e a outras tribos, se organizaram nas cidades e reservas. Há algumas décadas, os indígenas são um dos movimentos políticos mais importantes do país.
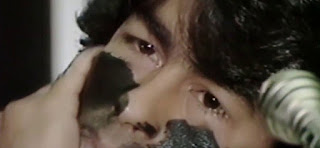 |
| Ailton Krenak durante discurso na Constituinte em 1987. |
Isso tudo é só um pouquinho do que tenho aprendido. Na verdade, tenho REaprendido o Brasil e “Guerras da Conquista” é parte disso. Esse país mais real, diverso, duro de enxergar e viver, carrega em seu povo uma resistência imensa - às vezes ela pode parecer invisível, mas está sempre lá.
*Eles falam línguas do tronco linguístico macro-jê que, ao lado do tupi-guarani e do aruaque, é outro grande ramo das línguas nativas daqui. Há outras famílias linguísticas menores e também povos que falam línguas isoladas, como os ianomâmis.
OUTRAS DICAS:
- Sobre "Guerras da conquista", coloquei o link para a editora, mas o livro pode ser encontrado nos grandes sites de compras e também em formato e-book, mais barato.
- Ler o livro “1499 – O Brasil antes de Cabral”, do jornalista e divulgador científico Reinaldo José Lopes – este vai ainda mais longe, na pré-história mesmo.
- Ler os livros do pensador e líder indígena Ailton Krenak e, pra quem nunca viu, assistir ao seu discurso na Assembleia Constituinte, em 1987. Este trecho aqui é de arrepiar...
- Visitar o site PIB - Povos Indígenas no Brasil, vinculado ao Instituto Socioambiental. Você pode procurar por estado, nome da tribo/nação e família linguística. Para cada uma há detalhes sobre história, língua, economia, cultura, histórico de contato e situação atual.


Uma aula de história! Muito interessante essa nova perspectiva, um novo olhar. Não foi bem assim que a gente aprendeu. Obrigada por compartilhar seu conhecimento.
ResponderExcluir